
Agricultura Familiar, fato ou fake?
por Luiz Alberto Melchert de Carvalho e Silva
Quando esta coluna deu início à série concernente o papel da qualidade dos índices sobre a política monetária, teve de dar destaque à inflação de alimentos. Não se imaginava que a questão estivesse tão longe do imaginário dos técnicos envolvidos no assunto. Essa falta de consciência ficou patente num evento recente em que a diretora técnica de um grande instituto tratou o café do Brasil e o do Vietnã como sendo o mesmo produto. Na verdade, o café produzido no Brasil tem, como maior concorrente, a Colômbia, mesmo que ela produza a metade, em peso e volume, do que se registrou no ano passado para o país do sudeste da Ásia. É que o café Arábica, que se produz em países como Quênia, Etiópia, América Central, Colômbia e Brasil, não é a mesma espécie que o café Robusta, que se produz no Vietnã. Os dois produtos não concorrem diretamente entre si. O fato de ter havido uma praga no Vietnã não induz ao aumento do preço do Arábica, mesmo que, em muitos casos, haja composição entre as duas espécies na bebida posta à disposição do consumidor. A propósito, o Brasil também é um grande produtor de Robusta em regiões baixas e quentes como Rondônia e litoral do Espírito Santo, mas a produção é pífia perante a outra espécie. Assim, o aumento no preço tem a ver com o fato de a China estar migrando do consumo majoritário de chá para a infusão do café. Claro que o consumo chinês está sujeito às mais variadas composições, conhecidas como blending no comércio. Se não fossem essas composições, o plantio no Vietnã não se teria estabelecido. É mais ou menos como tomate e batata, ambos são da mesma família e compõem saladas, mas o mercado de um não afeta, nem é afetado pelo outro.
É preciso interromper a sequência para conversar um pouco sobre o mercado de hortaliças, incluindo raízes e tubérculos. Em outubro de 2021, esta coluna publicou uma matéria chamada “Agricultura, Cidades e Eletricidade, um triângulo nada amoroso”. Ali, apesar de ter o foco na crescente dependência de energia por parte do agro, dá-se uma ideia de como a produção de hortaliças foi parar no colo de megaprodutores, tendo há muito deixado de ser alvo da agricultura familiar. Não se pode conceber que um assentado tenha acesso a um pivô central que custaria, no mínimo, US$ 270 mil e que o custo mensal para seu funcionamento, considerando operação, manutenção e consumo de energia, atinja os US$ 27 mil ao mês. Isso restringe o uso dessa tecnologia aos itens menos perecíveis e de mais longa vida de prateleira como cenoura, cebola, batata, alho, beterraba, tomate, pimentão e alguns poucos outros produtos, daí a redução da variedade em exposição nos supermercados. Mesmo as folhosas[1], dantes umbilicalmente ligadas à agricultura familiar, estão-se dirigindo ao agronegócio. Dois exemplos disso são o repolho e a alface americana, não à toa semelhantes em formato, que se destina à resistência mecânica e ao prolongamento da vida de prateleira.
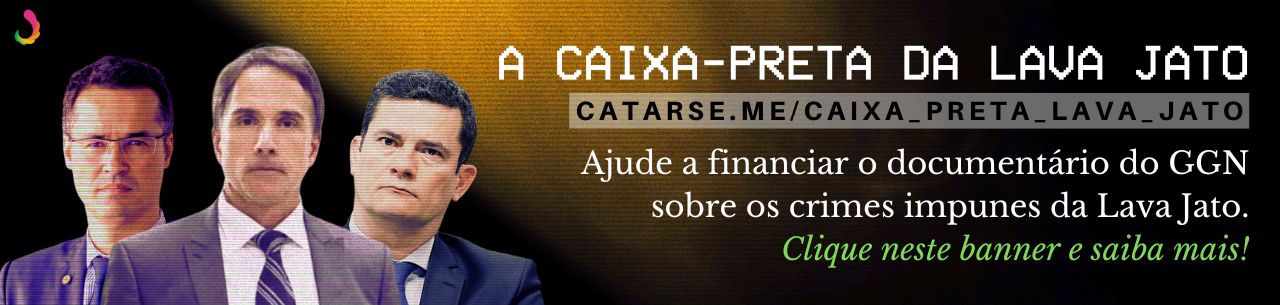
O fenômeno acima é mundial. Algumas culturas têm um périplo que abrange todo o território nacional. No Brasil, um bom exemplo é a batata, que, ao longo do ano, migra, estado a estado, de Pernambuco a Sta. Catarina e vice-versa. Nos Estados Unidos, além da batata, há a alface que, no auge do verão está em Utah; no pico do inverno, encontra-se no Texas. O alvo é a constância de abastecimento, anseio do comércio, seja dos supermercados, seja dos estabelecimentos de alimentação, que veem a sazonalidade como inimiga.
Pelo ponto de vista dos supermercados, a área de loja destinada aos alimentos divide-se em açougue, refrigerados, frigorificados, feira e mercearia. Todo o produto vegetal in natura fica na feira e os itens são tratados como folhosas, frutos, raízes e tubérculos. Há uma exceção que, quando este autor lecionava varejo em alguns cursos de graduação e pós-graduação, chamava de “trio elétrico”, termo que se tornou usual no mercado. Ele é composto por tomate, cebola e batata. Se algum desses itens faltar, o consumidor larga o carrinho onde estiver e dirige-se a outro estabelecimento.
Essa busca por constância de abastecimento modificou radicalmente o fluxo comercial. Existem basicamente dois tipos de produtores, os que beneficiam os seus produtos e os que usam beneficiadores autônomos. Cenouras e batatas, por exemplo, passam pelos lavadores que têm contratos com os supermercados, entregando sua mercadoria diretamente nos centros de distribuição, onde a carga é fracionada e entregue às lojas. Isso deixa de fora os centros estatais de abastecimento, que acabam por ficar nas mãos de atravessadores, tendo por clientes os supermercados independentes, as pequenas redes e o comércio de refeições. Megaempresas como Benassi, oriundas de boxes[2], têm seus mateiros, que percorrem as lavouras familiares, adquirindo as mercadorias que os grandes não querem produzir por não tolerarem mecanização intensiva. Aliás, a figura do produtor familiar com uma pedra[3] num centro público de distribuição ficou no passado. É que o custo de manutenção da pedra é tão alto que o volume passa a requerer aquisição de terceiros.
A própria legislação contribui para afastar a agricultura familiar do fluxo comercial. As caixas de roça não podem ser reaproveitadas e as caixas tipo K, padrão dos centros de distribuição precisam ser devolvidas vazias, sendo um eterno motivo de conflito para saber quem arca com as danificadas. A solução tem sido usar caixas de papelão, que agregam custo ao produto e não estão disponíveis em pequena quantidade nos municípios majoritariamente ligados à agricultura.
Fica a pergunta, existe espaço para agricultura familiar? Sim, existe, seja para produtos que ainda não têm cultivares adequadas à produção em massa, seja na agricultura orgânica, mas fica muito difícil crer na afirmação recorrente de que 70% do que comemos vem da agricultura familiar. É imprescindível que, antes de oferecer dados numéricos, que se desenhe os caminhos entre o campo e o prato, inclusive, para que os índices não se tornem inverossímeis.
[1] Refere-se às verduras como alface, espinafre, agrião, couve e outras.
[2] Estabelecimento comercial de compra e venda de produtos agrícolas em centros públicos de distribuição.
[3] Estabelecimento destinado à venda de produtos próprios em centros públicos de distribuição.
Luiz Alberto Melchert de Carvalho e Silva é economista, estudou o mestrado na PUC, pós graduou-se em Economia Internacional na International Afairs da Columbia University e é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Depois de aposentado como professor universitário, atua como coordenador do NAPP Economia da Fundação Perseu Abramo, como colaborador em diversas publicações, além de manter-se como consultor em agronegócios. Foi reconhecido como ativista pelos direitos da pessoa com deficiência ao participar do GT de Direitos Humanos no governo de transição.
O texto não representa necessariamente a opinião do Jornal GGN. Concorda ou tem ponto de vista diferente? Mande seu artigo para [email protected]. O artigo será publicado se atender aos critérios do Jornal GGN.
“Democracia é coisa frágil. Defendê-la requer um jornalismo corajoso e contundente. Junte-se a nós: www.catarse.me/jornalggn “
Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor.
Apoie e faça parte desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte.



 produtos
produtos




Muito bom, e alarmante.
O atual quadro diagnosticado revela um atrelamento dessa atividade a uma escala que, se de um lado incorpora eficiente oferta, por outro traz preocupações:
A eficiência está diretamente ligada ao esgotamento de recursos, neste caso, a água, tornando-se um passivo ambiental a ser considerado.
De outro lado, a mecanização e escala, que afasta o precário produtor/assentado, induzindo a uma concentração de terras nas mais dos que detêm acesso ao crédito e tecnologia, coloca vastas parcelas de terra submissas aos fatores macroeconômicos, como cambios, juros e variações de demandas e cotações externas.
Receita (ou tempestade?) perfeita para a financeirização do campo, ou, Financial Land Grabbing.
Eu pensei, na minha ignorância, que o setor agrofamiliar estivesse mais a salvo dessa financeirização ou dos fatores macroeconômicos , embora soubesse, por intuição, que ela estivesse excluída da escala produtiva e cadeias de comercialização com maior valor agregado.
Ainda assim, achava que, mesmo com essa condição, ainda pudesse suprir a demanda interna.
De fato, essa insignificância frente ao setor de alta escala pode ser uma benção, ou não.
Bom debate.
Na verdade, afinanceirização não é para ser combatida, é para ser domada. Marx dizia isso do capitalismo nos anos que se seguiram à publicação do 1º volume de “O Capital”. O real roblema é que o produtor familiar depende quase que exclusivamente do crédito oficial. Se ele tivesse como produzir com capital de terceirose garantir sua rentabilidade como conseguem os aricultores empresariais, teria acesso aos meios necessários à obtenção de produtividade equivalente. Tecnologia para isso existe, falta acesso.
Olha, bom dia, primeiro.
Tem uma coletânea organizada por doutorandos da UFRRJ sobre Financial Land Grabbing que indica que se a financeirização pudesse ser domada, nós perdemos o “timing”.
Não sou fatalista.
Sim, a financeirização não deve ser combatida, hoje eu concordo, porque o tempo para isso passou, há anos.
No máximo, conviver com ela, claro, no espectro da permanente luta política (de classes).
Porém, qual o sentido da luta?
Aceitar a financeirização e a necessidade de convivência, e sonhar em domesticar esse fenômeno, ou lutar pela sua extinção ou controle pelas classes excluídas.
Justamente o que não fizemos antes?
Porque se concordamos que chegou um tempo que a capacidade das sociedades e sistemas políticos representativos em criar formas de mitigação das desigualdades falhou, seja nos países ricos, mas ainda mais dramaticamente nos países pobres, sendo o capitalismo atual algo exponencial na geração de assimetrias, enquanto operamos a proteção social em mera escala geométrica, como imaginar que o faremos na escala quântica/IA das estruturas pós capitalistas da financeirização?
O financeirização já engoliu a indústria, e sendo a indústria a mola propulsora da acumulação e reposição do valor e mais-valor, imanentes condições de funcionamento do modo produtivo, além das outras instâncias descritas em Harvey.
Robert Kürz descreveu esse processo nos anos 70, em sua Teoria da Crítica do Valor.
Até Nouriel Roubini, insuspeito em seu Economia das Crises, revelou que esse caminho é o que existe.
Inexorável.
Eu não acho que possamos domar a financeirização, porque ela é a próxima etapa, o pós capitalismo.
Perdemos essa luta política há décadas, e a dialética materialista histórica não nos trouxe a vitória, ou a possibilidade de vitória das classes excluídas como antítese fatal do capitalismo.
Foi o próprio monstro que se devorou.
E perdoe a divagação, não é um bom presságio.
Obrigado pela chance do debate.
PS:
Como toda obra tão perene, a de Marx, embora tenha lançado premissas vigentes até hoje, como a questão do mercado e dos juros, nunca poderia imaginar o que se tornaria a questão da financeirização nos dias atuais.
É tal a escala, que até temo que se tratem de coisas distintas, embora tenham naturezas intrínsecas semelhantes.
Usando uma analogia sua, é como comparar primatas macacos e humanos.
Ou, no campo vegetal, banana e melancias, são frutas, compartilham essa natureza, mas são coisas totalmente diferentes.
É o mercado para Marx e o que vemos hoje.
Para mimi, a questão é que o Estado não entendeu a financeirização. Se você costuma ler minhas matérias sobre economia monetária, deve ter notado que defendo que a política de juros seja substituída kpor uma política de crédito com dois enfoques distintos, prazo e risco. O prazo tem efeito muito maior do que a taqxa de juros, especialmente quando se trata de bes de consumo durável que dependem de financiamento. Já o risco procura atender os parâmetros da economia comportamental, em que a premissa básica é que o medo de perder pesa muito mais do que a vontade de ganhar, contrariando o pensamento de Keynes acerca do empresário. Nisso, o papel do Estado é agir como segurador do risco de crédito, criando papéis que favoreçam as classes que mais necessitam. Seria muita pretensão minha pedir que faça uma imersão no que já escrevi, mas tente. Estou organizando um livro com as matérias agrupadas por assunto e compilando a devida bibliografia. Espero lançar antes de Julho.
Sim, eu leio.
E reafirmo minha observação.
Acho, sem ofensa, que você confunde sistemas de crédito com a financeirização.
Elas estão relacionadas pela natureza do valor e mais-valor acumulado, mas em algum momento da história, talvez pós Bretton Woods, eles se descolaram.
Aí, o que era causa e efeito, ou seja, dinheiro parado, que acelerava investimento para corrigir a “água parada de capital”, remunerado com risco arbitrado pelas sócio reproduções capitalistas, taxas de amortização e retorno, etc, virou um fim em si, ficando só a arbitragem e redistribuição autoritária dos agentes “do mercado”.
O rato pariu a montanha.
É a tese de Kürz, contada na historinha do leite e manteiga.
No início, a produtor derivava manteiga do leite e agregava renda, em algum momento, é como se a produção de manteiga tenha se replicado , sem relação com a quantidade de leite produzida, e a manteiga deixou de ser apenas um produto derivado.
Claro que não sei contar bem a piada, nem me atrevo a reduzir a Teoria da Crítica do Valor aqui.
Mas em suma, acho que não podemos mais imaginar que crédito e financismo sejam a mesma coisa porque operam com retorno de juros.
Só mais um adendo.
Na atual situação, o paradoxo é insolúvel.
Não tem mais como voltar a montanha para dentro do rato, para que ela possa parir o roedor.
Eu entendi bem que sua proposta é controlar o sistema de crédito, como se possível fosse:
Intervir nas forças que arbitran a distribuição da renda (juros), como forma de controlar expectativa (que é a mola das espirais de descontrole de qualquer sistema econômico ou política econômica).
Para isso seria crucial separar crédito de financeirização.
Aí é que digo, não dá mais, a manteiga soterrou a vaca, o produtor, a fazenda, a cidade, o país onde se começou a produção do derivado, e hoje, há traços de manteiga até na água.
Por isso, apesar do meu ceticismo, isso não implica no abandono da luta política mortal que temos pela frente.
Neste caso, denunciar o determinismo economicista, espertamente apreendido pelo pensamento liberal, que usa a relação infra e superestrutura de Marx, sem a dialética, para impor um ação política do donos do capital sempre justificada pelo fatalismo econômico.
Um truque sagaz, e que, pelo visto, contaminou até a raiz gente como Haddad e etc.
Minha veemência anti financeirização é parte dessa luta política, mas não desconheço a realidade que se impôs, e com a qual temos que lidar.
Mas, há de se criar oposição teórica e de praxis firmes, para que haga alguna base de manobra para a ação política necessária, e isso implica em reconhecer que a financeirização é o mal em si.
Como vamos combater esse mal?
Boa pergunta.