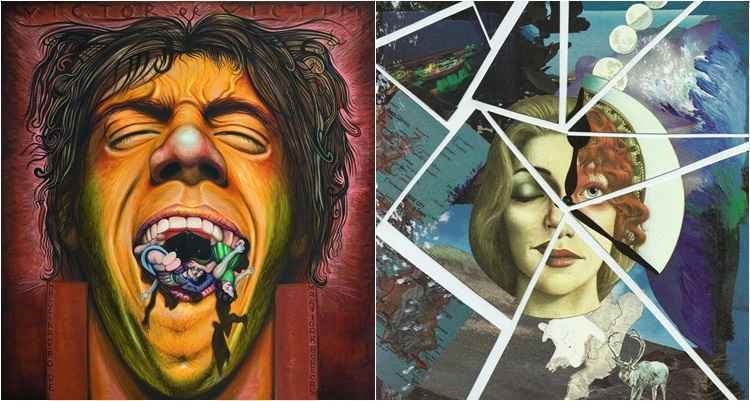
A razão bolsonarista
por Daniel Afonso da Silva
As tormentas brasileiras do 8 de janeiro de 2023 foram o único artifício capaz de harmonizar as convicções dos presidentes Biden, Macron e Putin. Eles condenaram os atos ultrajantes da Praça dos Três Poderes e manifestaram apoio incondicional ao presidente Lula da Silva e às instituições democráticas do Brasil. Todos sabem que seus telhados também são de vidro. E sabem também que o que se passou em Brasília pode se reproduzir em seus próprios países [novamente].
O Brasil não é os Estados Unidos nem a França tampouco a Rússia. Mas a multiplicidade de crises de representação que acomete igualmente todos possui dimensão comum e preocupante.
O povo russo está neutralizado num conflito mundial que não diz seu nome [não se trata de guerra, mas de disputa pela hegemonia mundial; o que é bem mais complexo que qualquer conflito convencional ou irregular] e as sociedades norte-americana e francesa reconhecem a duras penas o seu rebaixamento em todos os indicadores de qualidade de seus ambientes de vivência.
Desde o 24 de fevereiro de 2022 que o presidente Putin faz frente a uma ofensiva dos Estados Unidos, União Europeia e Otan que se autodeclaram guardiões da soberania ucraniana e dos preceitos de moralidade ocidentais. Vai, portanto e em contraponto, completar doze meses que a Eurásia, o Oriente Médio e vastas porções dos continentes africano e latino-americano desmascaram a onipotência dos democratas liberais liderados pelos presidentes Biden e Macron que produziram esse choque inflacionário medonho causador do frio dos europeus e da diminuição da oferta de produtos básicos da dieta alimentar dos africanos mais modestos.
Por essas razões que China, Índia, Irã, Arábia Saudita, África do Sul estão perto de ressignificar todos os seus aglomerados institucionais regionais para refundar em outros termos a arquitetura multilateral saída de 1945. Ficou evidente que o estado de bem-estar social praticado pelo mundo livre norte-americano e europeu depois da morte de Hitler deixou de viger, ficou anacrônico e não é mais exportável. Ninguém minimamente mentalmente saudável no século 21 quer viver o american dream [sonho americano], o american way of life [estilo de vida americano] ou o rêve européen [sonho europeu]. Ninguém minimamente intelectualmente honesto troca a Bertioga por Ibiza ou Doha por Nova York.
Quem acompanha o drama do féretro das democracias acaba por constatar que a história não terminou, como sugeria Fukuyama. O imperativo da democracia liberal como último refúgio jamais de fato vingou. Ao contrário. Desde o 11 de setembro de 2001 que se presencia a revanche dos povos retirados da História depois de 1945. Uma revanche, portanto, contra o pensamento único imposto ao mundo inteiro pelo monopólio da razão autoproclamado pelo Ocidente.
O diplomata singapuriano Kishore Mahbubani não se furta em reiterar que o século 21 decretou o fim do “parêntesis ocidental” de cinco séculos de ocidentalização do mundo. O suposto central de sua análise recai sobre o retorno intencional da China (e da Ásia) à manobra do mundo.
Toda a discrição da projeção chinesa perdeu a sua inocência a partir do ingresso do seu ingresso na Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2001.
Esse feito – o maior complicador da supremacia ocidental – modificou estruturalmente a ordem econômica internacional e segue causando mutações desconcertantes nas dinâmicas sociais da divisão nacional e internacional do trabalho. Se já não fosse o suficiente, praticamente todos os países estratégicos do ordenamento mundial contemporâneo possuem frações de suas dívidas soberanas franqueadas em capital chinês. Nem os Estados Unidos, a França e a Rússia escapam.
Sem o boom da China nos anos 2000, o dito Sul Global [que se assemelha a uma quimera para identitário ver pois não há país com interesse nacional definido que sucumba a essa imagem], liderado pelos países dos BRICS, jamais ganharia expressão. A ostensiva demanda mundial por commodities e tecnologias levou a China a produzir o sucesso ou a sobrevida econômica de países do Sul ao Norte. Do Brasil ao Canadá à Nigéria até a Itália e França.
Com a mesma intensidade que os chineses compravam soja, carne e minério de ferro brasileiros, também avançavam sobre terras e madeiras africanas, soja e carnes norte-americanas e usinas nucleares europeias.
A crise financeira de 2008 jogou o mundo inteiro em queda livre. O espaço europeu jamais se recuperou da crise do euro. Os norte-americanos viram a (re)emergência do tea party que lançou as bases do trumpismo. O Magreg e o Oriente Médio foram varridos pelas primaveras árabes. O Reino Unido sucumbiu ao eleitoralismo do primeiro-ministro David Cameron que resultou na instalação do referendum que levou ao Brexit. E o Brasil foi lançado no torvelinho macabro da queda mundial do preço das commodities [especialmente do petróleo], da falência das “campeãs nacionais” [Eike Batista que o diga], na profusão de insatisfação das noites de junho de 2013, na inconsequência do “não vai ter Copa” promovida pelos “admiradores” [Guilherme Boulos à frente] de hospitais e serviços públicos padrão Fifa, nos desmandos da Operação Lava Jato [com Moro e Dallagnol no comando], no esquartejamento da Petrobras, no impeachment da presidente Dilma Rousseff e na prisão do presidente Lula da Silva.
Nessa turbulência toda, nenhum político europeu conseguiu se reeleger [apenas Angela Merkel na Alemanha e Emmanuel Macron na França]. Nenhum primeiro-ministro britânico terminou seu mandato na Inglaterra nem na Itália. A Hungria viu ressurgir a extrema-direita em sua versão mais tosca, indelicada e mal-educada. Os italianos não conseguiram se recuperar da vulgaridade de Silvio Berlusconi. Os espanhóis pressionaram o seu próprio rei Juan Carlos a abdicar. Os norte-americanos elegeram o iconoclasta Donald J. Trump. Os egípcios, líbios tunisianos e marfinenses jamais recuperaram a estabilidade de antanho, dos tempos que possuíam seus malvados ditadores de estimação. A tragédia da Síria ficou imortalizada no colapso de Palmira. E o Brasil viu nascer o bolsonarismo.
O bolsonarismo é a versão brasileira da erosão da ideia e da esperança de progresso e prosperidade entoadas pela globalização e pelo multilateralismo onusiano saídos da Segunda Guerra Mundial e que, depois de 1991, deixaram de existir.
As promessas da Carta do Atlântico de 1941 e da Carta das Nações Unidas de 1945 não convencem mais ninguém. Nem aos seus próprios fiadores norte-americanos e europeus.
As premissas liberais de Bretton Woods também não se sustentam. Não bastasse a saída dos Estados Unidos dos acordos em 1971, a crise financeira de 2008 implodiu o consenso financeiro-econômico forçado pelo mainstream neoliberal e neoclássico dos anos de 1970-1980 e nunca mais se restaurou.
Porquanto, hodiernamente, nenhum país seguidor dessas promessas e premissas cultiva campos verdejantes.
Esquece-se com facilidade que não fosse a pandemia de coronavírus o presidente Donald J. Trump teria sido facilmente reeleito nos Estados Unidos. Não simplesmente pelas taxas de desemprego historicamente mais baixas do país no século 21, mas também pelas projeções de crescimento econômico mais substantivas dos últimas cinquenta anos.
Da mesma maneira, subestima-se com desmesurada ingenuidade o potencial do bolsonarismo em reeleger – ou eleger outra vez – o presidente Bolsonaro mesmo sendo a a sua linguagem corporal tão rude, o seu vocabulário pouco polido e seus gestos nada diplomáticos – especialmente durante a pandemia. Cloroquina pra emas e “não sou coveiro” ultrapassaram todas as linhas vermelhas. Foram movimentos de lunáticos rastaqueras. Não – nunca, jamais – de um homem público com responsabilidades supremas de uma República. Mesmo assim, a sua reeleição em 2022 ao ocorreu por meros detalhes.
O bolsonarismo ao Bolsonaro perdoou tudo. Inclusive a multiplicidade de crimes – somados de indelicadeza, mau-caratismo e infinitas denominações do cretinismo – cometidos ao encontro da deputada Maria do Rosário em tempos nem tão imemoriais assim. Nem o seu nagacionismo frente ao memento mori foi demais.
Isso tudo quer dizer que a negação do retorno do presidente Lula da Silva ao poder é muito mais intensa que se imagina porque o bolsonarismo é muito mais complexo que costuma supor.
Ao passo que o presidente Lula da Silva recorre ao identitarismo de ocasião e ao vocábulo neutro de convenção, os bolsonaristas de raiz voltam-se para a Bíblia para aguardar o retorno do Messias. Os trumpistas fazem o mesmo.
Bolsonaro e Trump são, sim, quase dois irmãos. Não foi ao acaso que o ministro Ernesto Araújo vaticinou que Donald J. Trump iria “salvar o Ocidente” e Jair Messias Bolsonaro, o Brasil.
Os ideólogos do bolsonarismo – Olavo de Carvalho foi apenas um deles – acreditam que o Ocidente amarga uma decadência acelerada, sem precedentes e terminal. Sob muitos aspectos eles têm razão. O problema é que consideram que o presidente Lula da Silva, o lulismo e agora o lulo-psdebismo são a encarnação dessa decadência e dessa erosão.
Numa equação bem confusa, eles supõem que multilateralismo é sinônimo de globalismo e que globalismo é inimigo do Ocidente e que Ocidente (e tudo que ele representa) é o último refúgio da dignidade humana. Não vale a pena adentrar nessa confusão por agora [é preciso voltar a tudo isso com mais vagar].
Mas é de se notar que, no fundo, eles entendem o presidente Lula da Silva, o lulismo e os não-bolsonaristas como quase anti-Cristos, anti-Ocidente e anti-Brasil.
Os incidentes do 8 de janeiro foram promovidos pela camada odiosa e vulgar do bolsonarismo e não por seus ideólogos. A franja lunática e grosseira que adentrou as dependências dos Três Poderes em Brasília está longe de ter consciência da profundidade da luta que lutam os “pensadores” do bolsonarismo.
A razão bolsonarista é imperativamente letal e possui lastros pelo mundo inteiro. Não é precisamente uma “extrema-direita”. É algo mais sutil. Ainda mais radical. Típico do século 21. Um sinal dos tempos.
Diferente do que se costuma indicar, a razão bolsonarista não é inculta nem breve. Nada disso. Ela veste punhos de renda; muita vez, em seda. Acompanha com paciência a composição de forças do governo recém-instalado. E planeja com percuciência o momento ideal para o golpe letal. Que não foi o do domingo nem foi desta vez.
Daniel Afonso da Silva é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e autor de “Muito além dos olhos azuis e outros escritos sobre relações internacionais contemporâneas”.
O texto não representa necessariamente a opinião do Jornal GGN. Concorda ou tem ponto de vista diferente? Mande seu artigo para [email protected].
Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor.
Apoie e faça parte desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte.



 produtos
produtos



