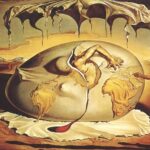do Observatório de Geopolítica
Kill Boxes: a fragmentação da guerra
por Eduardo Barros Mariutti
Dada as dificuldades técnicas – o vetor utilizado, as imprecisões dos sistemas de controle de fogo, poder destrutivo etc. – a destruição de um prédio na II Guerra Mundial demandava o emprego de 9000 bombas. Na Guerra do Vietnã cerca de 300. Atualmente é possível destruir um edifício com apenas um míssil de cruzeiro. O que se vê é, portanto, um incremento considerável da precisão e da capacidade de dano dos armamentos. Entretanto, o seu emprego depende da efetividade das tecnologias de percepção, isto é, da capacidade de identificar e individualizar os alvos de forma remota (targeting), para que eles possam ser atingidos. De qualquer modo, a maior granularidade dos sistemas de designação de alvos entrou em sinergia com o desenvolvimento de um conceito operacional novo, as Kill Boxes: áreas geográfica e temporalmente delimitadas em que as forças armadas dos EUA não precisam de autorização do comando central para atacar alvos hostis.
Em tese, esta inovação institucional confere mais flexibilidade e dinamismo às operações ofensivas, particularmente aos ataques aéreos tripulados e não tripulados que, por ganharem certa independência do comando central, podem operar em “tempo real”. Originalmente a noção de Kill Box foi utilizada em uma guerra convencional, como parte da Operação Tempestade no Deserto, no dia 30 de janeiro de 1991, e designava uma área de fogo livre e de interdição aérea do inimigo com 900 quilômetros cúbicos. Hoje, a princípio, em qualquer ponto do planeta em que se detecte uma ameaça, é possível definir uma Kill Box de tamanho variável onde os EUA – ou seus aliados – podem abrir fogo livremente, mesmo em zonas onde não exista guerra declarada. Ao contrário do que se verificou orginalmente na Guerra do Golfo, a tendência hoje é de uma granularidade cada vez maior, que pode envolver apenas alguns metros.
O aspecto mais importante a ser notado é o vínculo entre a técnica – a granularidade dos sistemas de vigilância e sua integração com formas de projeção de dano letal – e as transformações institucionais. A grande celeuma é que boa parte das “ameaças” são designadas de forma automatizada por algoritmos e formas de sensoriamento preditivas, mediante um procedimento chamado de signature strikes:os alvos, que podem ser indivíduos totalmente desconhecidos, são designados por seus padrões de comportamento e associações pessoais (pattern of life analysis). Este tipo de atuação expressa transformações significativas na percepção militar: “A perspectiva vertical que transformou a guerra nos primeiros dias da aviação militar agora é aprimorada por uma ‘visão aérea’ que não está mais confinada apenas a meios ópticos, mas busca os padrões e esquemas que surgem das populações humanas (…). Essa mudança não é incidental; é o resultado de concepções em evolução sobre a guerra, passando de um ‘mass-event’ para um exercício de policiamento global, no qual comportamentos suspeitos são visados da mesma forma que combatentes inimigos claramente identificáveis.” (Nina FRANZ. “Targeted killing and pattern-of-life analysis: weaponised media.” Media, Culture & Society, v. 39 p. 112).
Dois elementos devem ser destacados na passagem supracitada. A visão aérea é muito mais abrangente do que a percepção vertical típica da aviação durante a I Guerra, que dependia dos relatos dos pilotos e das fotografias, que eram suplementadas pelos observadores nos balões fixos. A percepção era ótica e muito próxima do sensório humano. Uma visão aérea é sempre tridimensional e multiespectral, isto é, cobre potencialmente todo o espectro da luz e demais sinais (térmicos, sonoros etc.). É uma percepção maquínica. O segundo é a dimensão institucional. A ideia de combatente começa a transcender as categorias convencionais – i.é. um representante genérico de uma entidade coletiva (o Estado) em uma guerra formalmente declarada – e passa a ser atribuível a qualquer ameaça representada pelas ações de um indivíduo ou grupo que, a princípio, pode estar em qualquer território.
Eduardo Barros Mariutti – Professor do Instituto de Economia da Unicamp, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas da UNESP, UNICAMP e PUC-SP e membro da rede de pesquisa PAET&D.
O texto não representa necessariamente a opinião do Jornal GGN. Concorda ou tem ponto de vista diferente? Mande seu artigo para [email protected]. A publicação do artigo dependerá de aprovação da redação GGN.
Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor.
Apoie e faça parte desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte.



 produtos
produtos